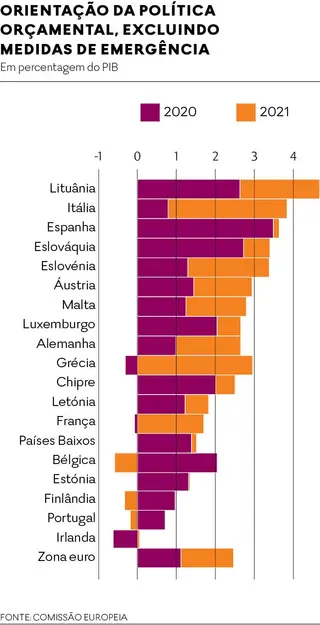(Daniel Oliveira, in Expresso, 05/04/2021)

Costa sabe que, logo depois da pandemia abrandar, será o momento ideal para uma clarificação política. E que governar em minoria, com uma crise social e económica em mãos, será muito difícil. E é possível que acredite que um chumbo do Orçamento de 2022 lhe pode oferecer a oportunidade de secar os partidos à esquerda e ir a votos com a direita em crise. Ou que esse risco sirva para uma aprovação sem cedências. Marcelo não quer uma crise num momento em que a direita não está preparada para ser alternativa.
Marcelo Rebelo de Sousa não podia ter sido mais claro na resposta ao Governo. Que já salvou orçamentos com mais despesa do que receita porque achava que este não era o tempo para crises políticas. Que o fez o mesmo agora, pensando na estabilidade política e na necessidade evidente destes apoios sociais. Mas, acima de tudo, que o fez a pensar nos próximos meses ou mesmo até ao fim da legislatura. Explicando que “o Presidente é mais do que um professor de Direito” – por isso é eleito –, Marcelo deu a chave para a sua atitude, dizendo que se tratou de uma “salvação preventiva do próximo Orçamento de Estado”.
Gosta da Estátua de Sal? Click aqui.
Antes das eleições avisei (muitos outros o fizeram, aliás) que Marcelo estaria empenhado em contribuir para que se reconstruísse uma alternativa à direita. Devo dizer que esse empenho não só não me repugna, como me parece indispensável, mesmo que o Presidente fosse de esquerda. Não há democracia sem alternativas. Mas para que essa alternativa se construa precisa de tempo. E, com a crise que aí vem, o tempo tenderá a jogar contra António Costa.
Concedo que estou a fazer um exercício arriscado. São, de alguma forma, processos de intenções não declaradas pelos vários atores políticos. Mas parece-me plausível que António Costa saiba que o momento da pandemia é positivo para ele. Tem sido muitas vezes referido o efeito “rally ‘round the flag”, que faz com que, em momentos de crises internacionais ou guerras, seja habitual um aumento no apoio aos governos em exercício, de curto prazo. É um instinto de sobrevivência coletiva e de busca de segurança. Costa sabe que vive esse momento, como atestam os seus índices de popularidade mesmo quando a crise se agudiza. E que o momento ideal para uma clarificação política será logo depois da pandemia abrandar, provavelmente logo depois do debate do próximo Orçamento de Estado.
Olho para a crise artificial criada pela alteração dos apoios sociais com esta hipótese em cima da mesa. Como ficou claro pelas declarações de João Leão, não será necessário um Orçamento Retificativo para acomodar este aumento da despesa. Como ficou claro por todo o debate, a fórmula de cálculo dos apoios sociais para trabalhadores independentes e sócios gerentes, mantendo a comparação com os rendimentos nos 12 meses anteriores (e passando a ter como referência um período já pandémico e com confinamentos), correspondia a um corte nos apoios quando a situação está a piorar. A possibilidade orçamental de corresponder a uma necessidade social teria aconselhado o Governo a ter atendido os protestos da oposição e a ter negociado uma solução. António Costa preferiu concentrar-se na questão constitucional, mas há uma questão política que lhe é prévia. E todos os sinais, incluindo o recurso legiítimo, mas inconsequente do ponto de vista orçamental, ao Tribunal Constitucional, apontam para a vontade de alimentar a incomunicabilidade com a oposição, alimentando uma escalada de hostilidade. Marcelo percebeu-o e tenta anular a estratégia.
António Costa percebe que governar em minoria depois da emergência da pandemia, com uma crise social e económica em mãos, será muito difícil. Sabe que ele próprio fechou as portas, logo depois das eleições, a um entendimento permanente com base em acordos escritos que lhe desse a tal maioria. E é possível que acredite que um chumbo de Orçamento de Estado para 2022, num momento ainda próximo da pandemia, lhe pode oferecer a oportunidade de secar os partidos à sua esquerda e ir a votos com a direita em crise. Ou que esse risco sirva para uma aprovação do Orçamento sem cedências ou negociações. Já Marcelo é explícito: não quer uma crise num momento em que a direita não está preparada para ser alternativa.
Aceitando esta tese, que é obviamente discutível, cada um terá a sua opinião sobre a justeza das estratégias de Costa e de Marcelo. O que não faz sentido é acreditar que é a norma-travão que está realmente de causa. É bem mais (ou bem menos, conforme o ponto de vista) do que isso.